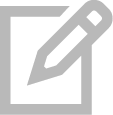Exmo. Senhor Prof. Victor Gil, Presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia,
Exmo. Senhor Prof. Nuno Cardim, Editor Principal da Revista Portuguesa de Cardiologia,
«Não é possível prever o imprevisível» é a afirmação exaustivamente ouvida neste nosso tempo de megacrise, tempo policrísico, que, de novo, ameaça cataclismicamente a humanidade. Megacrise feita da cumulação interativa da crise sanitária, económica, social, política e, também, ecológica, nacional e planetária complexa.
Complexidade angustiante, a desta crise, que, impropriamente, se diz inédita, em que tudo o que parecia separado se revela intrinsecamente inseparável. A natureza, uma vez mais, nos mostra que é una e que o homem não é apenas, mas, também, um animal entre todos os outros seres, numa inevitável e global interação cheia de possibilidades, mas, também, de ameaças, não só reais como de forte probabilidade.
Pertinente me parece, neste momento, angustiantemente policrísico, lembrar Pascal quando disse: «Enfim, o que é o homem na natureza? Um nada perante o infinito, um todo a respeito do nada, um meio entre o nada e o todo» 1.
Com frequência nos esquecemos do «paradoxo que faz com que o acréscimo do nosso poder vá a par com a nossa debilidade» 2. Sendo assim, não sendo o homem mestre da natureza, inteligente e, até, normal será esperar o inesperado, prever o imprevisível.
Em formulação diferente se poderá dizer, mesmo, que sabemos que, inevitavelmente, o imprevisível vai acontecer, embora não saibamos quando, como e que amplitude terão os seus nefastos efeitos.
Sabemos que as pragas têm existido desde que existem seres vivos e que o homem, o Homo sapiens, com cerca de 200 mil anos de existência, tê‐las há sofrido repetidamente.
Creio que o poder político, ao refugiar‐se na afirmação propalada de que se não pode conhecer o imprevisível, apenas procura justificar o injustificável. Se é verdade que se não pode prever e conhecer o imprevisível, verdade é, também, que se pode – e deve – prever a sua eventualidade e, para responder a essa eventualidade, estabelecer estratégias de resposta e dotar‐se dos meios mínimos para, com oportunidade e acerto, as desenvolver.
Não foi assim que aconteceu no mundo (à exceção da Coreia do Sul, Taiwan e Singapura). A resposta à crise foi, em nível mundial, desarticulada, contraditória e gritante pela falta de meios básicos passivos (como máscaras, fatos de proteção anti‐infeciosas, desinfetantes, ventiladores etc.) e pela falta de concertação de meios profiláticos passivos e da sua atribuição prioritária aos profissionais de risco, o que terá contribuído para o elevado número de óbitos verificado neste setor.
Creio que muitas e sólidas razões há para recusar as explicações politicamente apresentadas para justificar a inoperacionalidade mundial, verificada na resposta inicial à megacrise atual. E assim porque:
- 1.
«Não se deve fiar nas probabilidades nem esquecer que todo acontecimento histórico transformador é imprevisto» 3;
- 2.
É «vital não nos enganarmos em política» 4, não esquecendo, nunca, que, também em política, toda a ação é incerta e necessita de uma estratégia e que, na elaboração desta, não recordarmos a experiência é estarmos «condenados a repeti‐la» 5.
Ora, assim, inaceitável deveria ser, para as sociedades civis, a afirmação a que quase todos os governos, em todo o mundo, recorrem para justificar o injustificável: a sua incapacidade de resposta, concertação estratégica ao surto pandémico inicial e sua rápida globalização.
Sabemos, sabemos todos e sabemos bem, que a última pandemia, a da gripe espanhola, que ocorreu em 1918‐19, rapidamente percorreu o mundo, colhendo 50 milhões de vítimas.
Desde então, muitas epidemias e, mesmo, ameaças pandémicas se perfilaram no nosso horizonte. Aliás, muitos foram os cientistas que vaticinaram que a próxima epidemia seria vírica. Muitos deles nos alertaram, mesmo, para a ameaça que representa o vírus H5 N1, se conseguir mutacionar‐se para se transmitir de ser humano a ser humano. Segundo esses cientistas, nesse caso, poderia «chegar a ser a maior e mais rápida enfermidade mortal desde 1918» 6.
Perante tão grande quão segura ameaça de vírus ao homem, creio pertinente recordar, brevemente, a relação entre o vírus e o ser humano na natureza e história recente.
Como se sabe – sobretudo vós, que, na maioria, são médicos – só em fins da década de 1950 os cientistas identificaram o vírus influenza, um grupo com uma «diversidade muito elevada e com uma capacidade infeciosa variável, capaz de afetar, além dos humanos» 7, os animais domésticos.
Desconhecia‐se, então, ainda, tratar‐se de uma zoonose e, também, em consequência, se desconhecia qual seria o seu «hóspede reservatório». Seriam o australiano William Graeme Laver e o neozelandês Robert Webster que, financiados pela Organização Mundial de Saúde, descobriram o vírus influenza em pardelas (aves marinhas), tendo concluído serem elas o «hóspede reservatório» 8. A vulnerabilidade, humana em especial, perante o vírus influenza era, pois, preocupante, porque as pardelas são aves migratórias, que percorrem todo o mundo.
Pandemias do vírus influenza ocorreram, já, no século XX. Uma em 1957 (que terá provocado cerca de 2 milhões de mortos) e outra em 1968 (gripe de Hong Kong, que terá provocado cerca de um milhão de mortos)9.
Sabe‐se, também, que a gripe sazonal atinge, anualmente, cerca de três milhões de seres humanos e acarreta um número variável, mas grande, de óbitos (cerca de 250 mil mortos, anualmente). Muitas foram, também, as epidemias e ameaças pandémicas que assolaram os seres humanos no nosso tempo. Pela sua importância, nível de ameaça e, até, pelos seus devastadores efeitos se destacam: o ébola (1976), a Sida (HIV‐1 em 1983, HIV‐2 em 1986), a gripe aviária (1997), o SARS (2003) e a gripe porcina (2009).
Sabe‐se, hoje, que muitos dos vírus responsáveis por epidemias (a Covid‐19, por exemplo) têm como «hóspede reservatório» os morcegos10 e pergunta‐se por que razão tantos vírus saltam, de determinadas espécies de morcego para o homem. Charles Calisher, virologista e professor de microbiologia na Universidade Estatal do Colorado, diz não ter resposta cabal. Acredita, no entanto, que tal se poderá ficar a dever a fatores11 como a sua enorme diversidade; o facto de muitas espécies dormirem em grandes agregados e nascerem em números impressionantes; serem animais que terão evoluído até à forma atual ao longo de uns 50 milhões de anos; e essa antiguidade terá possibilitado uma longa associação com o vírus.
Este cenário supõe que o vírus infeta o morcego só brevemente, deixando os recuperados com uma imunidade para a vida. Ter‐se‐á conseguido, pois, como que um equilíbrio ecológico. O vírus não mata o morcego que o hospeda, alimenta e transporta para novos seres.
O último «sucesso vírico» ocorre com a Covid‐19, na província chinesa de Wuhan. Pertence à família dos coronavírus, já manifestada em 2002‐2003, com o SARS, que infetou uns milhares de seres humanos (8090) e o MERS, que apareceu na Península Arábica, em 201212.
O pandémico coronavírus, o de 2019, não será tão novo quanto se julga. Há vários anos já, numa gruta em Yunnan (a 1500km de Wuhan), uma equipa de investigadores encontrou um vírus que se parece muito com o da Covid‐19 (havia infetado 4500 pessoas e provocado 106 mortos). Zheng‐Li Shi, do Instituto de Virologia de Wuhan, em artigo publicado em 2017, mostrava que, numa gruta de Yunnan, haviam encontrado coronavírus em numerosos exemplares de morcegos de quatro espécies. Shi e os colegas anunciaram que o genoma desse vírus é idêntico, em 96%, ao da Covid‐19.
Da Covid‐19 pouco se sabe ainda. Teme‐se que, com ela, aconteça o que é normal ocorrer noutros coronavírus: mutacionam com frequência ao multiplicar‐se e podem, assim, evoluir rapidamente.
Peter Daszak, presidente da EcoHealth Alliance, que há muito trabalha em colaboração com Zheng‐Li Shi, afirmou: «Há 15 anos que advertimos acerca deste vírus» 13.
Não é animador admitir como provável que, depois deste surto pandémico, outra pandemia possa ocorrer. No entanto, temos de estar preocupados já com o vírus seguinte.
Não podemos dizer, pois, com honesto rigor, que a Covid‐19 nos surpreendeu porque é impossível prever o imprevisto. A verdade é que todos, sociedade civil e Estado, não quiseram atender aos avisos, repetidos, de cientistas, para a probabilidade do aparecimento de um novo vírus.
A megacrise atual, que a Covid‐19 potenciou e desnudou, sugere que façamos uma reflexão, cuidada, sobre as funções do Estado e, obviamente, sobre a sociedade civil.
A história exige, sempre, em democracia, a articulação de duas lógicas distintas, que, virtuosamente, se complementam, pois nenhuma delas está em condições de substituir a outra. São elas:
- ‐
A da sociedade civil, entendida como espaço social aberto e universalizável, que harmoniza a liberdade política e a cidadania e a partir do qual se coopera, «se questiona e se estabelecem reclamações e exigências de legitimação [de eficácia e responsabilidade social e política] à esfera estatal e económica» 14; e
- ‐
A do poder político, que acolhe uma vontade genérica, expressa pela sociedade civil, e a concretiza, ou procura concretizar, através de uma «lógica política» 15, com uma adequada estratégia, que deve ser objeto de oportuna e sistemática informação.
Sabemos, todos, que fácil não é a articulação virtuosa destas duas lógicas distintas. E fácil não é porque exige, além do mais, uma sociedade adulta, responsável, bem informada, personalizada através de instituições diversas, autónomas face ao poder político. E exige, além disso, uma «moral pública e um comportamento cívico» 16, que animem uma verdadeira responsabilidade social. Ora, quando a moral pública e o comportamento cívico se debilitam, fragiliza‐se o sentido do interesse coletivo.
Há que reconhecer que, na democracia portuguesa, a sociedade civil e o Estado muito fizeram para melhorar o país. Mas há que reconhecer, criticamente, que, apesar disso, ficámos muito aquém do desejado e possível.
Para corresponder, com oportunidade e eficácia, às justas expetativas, necessário se torna que a sociedade civil exerça, sobre o Estado, correta, oportuna e continuada ação, que obrigue o Estado a:
- ‐
Bem informar, com mais rigor e menos voluntarismo, a sociedade civil;
- ‐
Bem consciencializar e, mesmo, responsabilizar a sociedade civil pelos «bens públicos» 17; e
- ‐
Bem exercer as suas quatro funções principais:18
- 1.
A primeira função do Estado, a «realenga» 19, passa por assegurar a segurança, a justiça e a defesa;
- 2.
A segunda função é a de «de regulação económica» 20;
- 3.
A «redistribuição» 21 é a terceira função, que constitui um dos elementos de maior importância na solidariedade nacional.;
- 4.
E a quarta função tradicional do Estado é a de «fornecimento de serviços públicos» 22.
- 1.
O Estado, que parece quase só ocupado com a gestão do pessoal dos serviços públicos23, pouco se interroga e reflete sobre a finalidade da sua ação, sobre as necessidades reais, as qualidades, oportunidades e controlo, tanto da qualidade como dos custos e dos resultados dessa sua ação.
No fornecimento dos serviços, certamente com mais ou menos razão, a crítica à sua qualidade e oportunidade, sobretudo, é quase geral. Como, infelizmente, se constata não só, mas, sobretudo, com a Covid‐19, na saúde, na educação, nos transportes, na segurança social e, também, na educação.
Na crise da Covid‐19 parece não se ter desenhado e desenvolvido uma resposta estratégica adequada em que fossem mobilizados e integradamente utilizados o SNS, os serviços de saúde das Forças Armadas, as instituições de saúde privadas e as das instituições de solidariedade social.
O SNS, os serviços de saúde das Forças Armadas e as organizações de saúde das instituições de solidariedade social poderiam constituir uma primeira linha de resposta à Covid‐19.
As instituições de saúde privadas poderiam constituir uma segunda linha, destinada a responder, com continuidade, às necessidades de saúde estranhas às da Covid‐19 (reforçada por médicos do SNS, cuja ação na resposta à Covid‐19 não fosse necessária. Tudo isto contratualizado entre o Estado e os hospitais privados).
«Historicamente a democracia manifestou‐se sempre como uma promessa e um problema. Promessa de um regime empenhado em dar resposta [eficaz e oportuna] às necessidades [e às esperanças] da sociedade» 24, apostada na realização de um duplo imperativo, de igualdade e autonomia.
Há sempre tempo para recomeçar, sobretudo na vida dos povos. Necessário se torna haver um consenso sobre um projeto de vida em comum, nacional e mobilizador, que, no essencial, mereça consagração pública, consubstanciado num conjunto de reformas indispensáveis «nos domínios julgados essenciais para o futuro da Nação» 25.
Ora, relativamente à Covid‐19, surdos e mudos nos mantivemos, mesmo quando as próprias Nações Unidas, em setembro de 2019, «nos avisaram do perigo sério de uma pandemia, que, além de colher vidas humanas, destruiria a economia e provocaria uma crise social. [Essa informação] Chamava (o mundo) a preparar‐se para o pior: uma epidemia planetária de uma gripe especialmente letal, transmitida por via respiratória» 26. Avisava que «um germe patogénico com essas características podia originar‐se, tanto de forma natural como ser desenhado e criado em laboratório» 27.
Muitas serão as razões que se poderão invocar, não para justificar tão estranha quão preocupante atitude, mas sim, e só, para a compreender.
É evidente que assim é apenas para os cidadãos e para as suas sociedades civis. Não poderá sê‐lo, obviamente, para os seus governos, porque, a estes cabe, quando a vulnerabilidade possível e provável se torna ameaça, responder‐lhe com inteligência, isto é, com uma estratégia de urgência e com a mobilização dos meios necessários, dos disponíveis e dos disponibilizáveis.
Na verdade, para compreender a atitude dos cidadãos e das suas sociedades civis importa referir que a atual pandemia surge num tempo em que a maioria das pessoas pensava que, nas últimas décadas, havíamos conseguido controlar as «pestes».
Da presente pandemia devia a humanidade retirar lições que lhe servissem para melhor responder, estrategicamente, a novas crises pandémicas, imprevisíveis, mas seguras.
- 1.
A primeira seria atribuir novos meios e incentivos aos cientistas e pessoal médico, que já servem, com reconhecida competência, dedicação e coragem, as organizações públicas e privadas de investigação de doenças infeciosas.Creio que seria interessante e possível desenvolver programas de inventariação vírica, dedicando atenção especial aos seus «hospedeiros‐reservatório», já conhecidos ou a descobrir; que a OMS e a Organização Mundial da Saúde Veterinária tivessem contribuição estratégica e meios para potenciar o seu trabalho e melhorar a rede em que devem atuar.
- 2.
A segunda lição consistiria em mudar o paradigma atual da maioria dos serviços nacionais de saúde.O paradigma liberal vigente terá levado, nos SNS, «a sacrificar a prevenção e precaução a critérios [perversos] de rentabilidade e competitividade» 28. Os hospitais e os seus servidores (dedicados) foram, também, vitimados por uma política neoliberal de uma «gestão estatal hiperburocratizada» 29, liderada, por vezes, não pelos gestores mais competentes e com mais saber distintivo em saúde pública.
- 3.
A terceira lição deriva da subestimação a que a sociedade civil e os seus governos votaram os «ofícios» que a Covid‐19 mostrou estarem mais expostos ao perigo, o de morte nomeadamente. Foi o caso do pessoal médico, de enfermagem, bem como o dos técnicos de diagnóstico e ainda muitos outros que sustentaram a operacionalidade virtuosa dos hospitais.E o mesmo acontece com uma miríade de outros profissionais que mantiveram o país a funcionar, apesar do confinamento (falamos do Exército, PSP, camionistas, pessoal de limpeza, caixeiros, agricultores etc.).
- 4.
A quarta lição terá a ver com a desigualdade social, que tem dado fôlego à Covid‐19.«A pandemia acentuou [e exibiu] dramaticamente as desigualdades» 30. Mostrou‐nos a vulnerabilidade dos sem‐abrigo; dos pobres; dos que têm ocupações precárias; dos desempregados; dos que não podem, sem apoios externos, confinar; dos mais velhos, em lares que, não raro, são arrumadores ilegais de idosos.
- 5.
A quinta lição tem a ver com a desregulada globalização atual, que tudo subordina à economia, finanças e interesses geopolíticos das grandes potências.Quase todos os países desenvolvidos do mundo se viram a braços com a falta de material sanitário de emergência e com a incapacidade de mobilização industrial imediata para suprir essas necessidades.
- 6.
A sexta lição que a pandemia nos mostrou foi que a globalização desregulada constitui uma vera ameaça para a humanidade, tal como ecologistas, cientistas e epidemiologistas nos tinham advertido, e que importa regulá‐la com urgência.
- 7.
A sétima lição da crise da Covid‐19 foi a que desencadeou na União Europeia num acesso de febre soberanista, que chegou ao ponto de cada um dos seus Estados fechar as fronteiras. Pouco solidários se mostraram, também, os países da União Europeia com os países mais atingidos pela Covid‐19, a Itália e a Espanha. Percebeu, finalmente, a União Europeia que ou, em conjunto, responde e ultrapassa a crise, ou corre o risco de soçobrar perante ela. Medidas desenhadas pela União Europeia (nomeadamente, um crédito de 500 mil milhões de euros) parecem revelar que, finalmente, esta pretende dar um decisivo passo para assumir o lugar geopolítico de que necessita e merece.
- 8.
A oitava lição da Covid‐19 e das exigências de resposta foi a demonstração de quão desajustados são os nacionalismos perante as ameaças que se perfilam sobre a humanidade e a dimensão e característica das respostas necessárias.
- 9.
A nona lição revelou, também, com evidência, como diz Edgar Morin, uma crise de inteligência, que nos deve levar a compreender a complexa e indissociável conetividade global dos seres vivos e natureza, da sua inevitabilidade e mútua interação.
- 10.
E, finalmente, a décima lição. A ciência e a consciência ecológica dizem‐nos que a degradação da biosfera produz a degradação da antroposfera, afetando alimentos, recursos, saúde e psiquismo dos seres humanos31.
Não se pode, realmente, conhecer o imprevisível, mas pode‐se prever a sua eventualidade.
Reduzir toda a política à economia e toda a economia à doutrina da livre concorrência como solução de todos os problemas sociais é criar condições para uma provável tempestade global.
Considerando tudo isto, e tudo o que isto probabiliza, justificará perguntarmos se não será tempo de pensar numa mudança de paradigma da vida, nomeadamente num new deal ecológico e económico (de que, aliás, tem falado a Presidente da Comissão Europeia), relançando o emprego, o consumo (um consumo diferente), o nível de vida e as solidariedades, que temperam o individualismo, asseguram a liberdade e alimentam a utopia da igualdade.
A Covid‐19, esse tão diminuto ser, surpreendeu‐nos, até ao mostrar que o homem é, como disse Marguerite Yourcenar, «uma empresa que tem contra si o tempo, a necessidade, a sorte» 32, a morte. E que esta tem connosco inevitável – certo, mas imprevisível – encontro. E fez‐nos lembrar o que temos pretendido esquecer: como somos frágeis e precários.
Terá a megacrise atual fustigado, mesmo, a nossa convicção de que o progresso económico constitui, por si só, o progresso humano e que a livre concorrência e o crescimento económico são as condições mestras que continuam a conduzir o mundo ocidental.
A megacrise mundial da Covid‐19 mostra‐nos, ainda, como é néscio e perigoso o individualismo, cada vez mais egoísta, o que tem como efeito uma compartimentação social, económica.
E mostrou‐nos, finalmente, que o mundo é uma comunidade de destino, só virtuosamente defensável se o eu estiver no nós e o nós no eu, um nós que sejam os outros, todos os outros, homens e outros seres da natureza.
Conflitos de interesseNenhum.
Conferência proferida no 1.° Fórum da Revista Portuguesa de Cardiologia, Casa do Coração, Lisboa, 11 de Setembro de 2020.